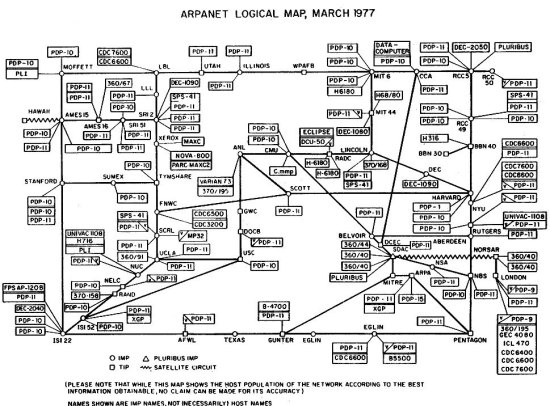Volto ao tema da calamidade no Sul, porque depois de publicar o último texto percebi que algo importante ficou de fora.
Talvez a melhor entrada no assunto seja a última declaração infeliz do governador Eduardo Leite, afirmando que os investimentos em prevenção de enchentes foram reduzidos porque havia outras prioridades, em particular o equilíbrio fiscal. O que vale reter dessa quase-confissão é que, assim como no seu deslize anterior, sobre o impacto da solidariedade nos comerciantes locais das áreas atingidas, o erro é que seus pés estão cimentados na lógica contábil de um mundo de estabilidade; só que essa lógica e esse mundo, já deu para perceber, foram abalados, e certamente sem volta, pelas circunstâncias da catástrofe ambiental.
Mas não quero me concentrar em Eduardo Leite, o indivíduo, a figura pública. É tentador passar todo o tempo fustigando uma liderança política que demonstrou incapacidade, justamente, de liderança. É claro que o governador não entendeu em que mundo, tempo e país ele vive e o que se espera de um líder nessa situação. Acontece que ele está longe de ser o único. Ao contrário, sua paralisia, o impasse em que se instalou seu raciocínio, é o sintoma da bifurcação crítica do nosso tempo. Aliás, o comprometimento da capacidade de planejar, de que tratei no texto anterior, também reflete esse impasse.
O conflito entre dois imperativos, o econômico/contábil e o ambiental, é uma dicotomia impregnada no nosso, como se costuma dizer, espírito do tempo. Nem adianta retrucar que, entregando as terras alagáveis para salvar o orçamento, o Estado ficou com as terras efetivamente alagadas e as contas completamente furadas; ou que veremos operações de salvamento bem mais caras para os cofres estaduais do que as que retiraram as pessoas das casas isoladas. Por isso mesmo, é preciso explorar o campo em que essa dicotomia se apresenta, assim como quais estradas podem ser tomadas ou mesmo traçadas, se queremos escapar do círculo vicioso que se expressa nas falas de Leite. E também se queremos ir além da mera aceitação da derrota.
1. Solidariedade como semente
Na verdade, se volto ao tema da enchente, é por causa do outro lado dessa moeda ambiental-econômica. Há cerca de um mês estamos acompanhando a grande variedade de iniciativas de solidariedade com os gaúchos, que enfrentaram dificuldades incomuns até mesmo em desastres anteriores: com o aeroporto interditado, estradas bloqueadas, abrigos tomados pelas águas e outras barreiras, foi preciso estabelecer novas redes de contatos, articular grupos de distribuição com entidades locais, dar novas destinações a espaços e assim por diante.
Tudo isso me chamou a atenção porque em outros desastres, nos últimos anos, também vimos surtos de solidariedade, com doações e o afluxo de voluntários, mas eram ações um tanto pontuais, que não chegaram a afetar o dia-a-dia das pessoas em lugares não atingidos. Desta vez, foi diferente. Foi preciso discutir como se poderia fazer, de que maneira as doações chegariam ao destino, descobrir quais eram os canais confiáveis, como escapar de fraudes e mentiras em geral. Empresas de TI desenvolveram plataformas especificamente para coordenar a distribuição de alimentos e roupas, por exemplo.
Olhando um pouco mais detidamente, é como se emergisse um sistema econômico coeso baseado na distribuição e na dádiva. Por ironia, foi Leite quem captou isso, completamente sem querer, mas nem por isso com menos clarividência, quando demonstrou preocupação pelo possível efeito sobre o comércio da chegada de tantos bens doados. Logo em seguida ele se viu constrangido a pedir desculpas, mas o fato é que a incompatibilidade entre a distribuição solidária e os requisitos do comércio está realmente colocada. E é isso que precisamos explorar.
Mas seria um erro simplesmente contrapor uma economia da dádiva à de mercado, com seu mecanismo de preços e o incentivo do lucro. Primeiro, porque a economia da dádiva, como já mostraram fartamente os estudiosos que se debruçaram sobre ela ao longo do último século, não é gratuita, nada tem a ver com solidariedade e envolve, ao contrário, muito conflito. É preciso ir um pouco mais fundo nisso. Mas principalmente porque parece haver outros princípios em ação.
2. A Grande Transformação
Vale a pena voltar às páginas da Grande Transformação de Karl Polanyi, publicado em 1944, e também a alguns de seus ensaios que saíram em volumes como A Subsistência do Homem e outros não lançados no Brasil. Polanyi foi um daqueles raros pensadores a buscar uma conexão substancial entre os mecanismos da economia moderna e as formas de organização da vida coletiva em geral, sem se ater demais à excepcionalidade da riqueza industrial, nem tentar naturalizar ou essencializar os comportamentos a que nos habituamos. É isso que o torna, acredito, tão percuciente e, ao mesmo tempo, tão insuportável para quem acha que pensar é sempre propaganda.
Ao tratar da emergência histórica do capitalismo como sistema, Polanyi apresenta a ideia de que a economia de mercado, baseada em trocas e viabilizada pelo mecanismo de preços, teria se “desenraizado” da sociedade, tornando-se autônoma e, em um movimento de inversão, “enraizando”, por sua vez, a sociedade na economia. Esse momento histórico é contraposto a outros três grandes princípios, ou lógicas, de organização da vida econômica. São eles a redistribuição, em que uma instância centralizadora, como os impérios mesopotâmicos, acumula os bens produzidos pelo coletivo como um todo e os redistribui segundo seus próprios critérios; a reciprocidade, da qual a troca é um caso particular, que designa um sistema onde diferentes partes trocam as suas produções através de um mecanismo de equivalências ou de um sistema de dádivas; e a domesticidade, responsável por uma existência predominantemente autárquica.
Quando a forma de mercado se torna dominante, diz Polanyi, não desaparece o espaço para modalidades dos outros princípios. Por exemplo, no caso da domesticidade, a família nuclear é responsável por muitas atividades cruciais da vida econômica; basta pensar no trabalho reprodutivo e não remunerado que recai sobre as mulheres. Da perspectiva institucionalista, a firma ou corporação também absorve uma parte do que cairia na categoria da domesticidade, internalizando modos de interação não mercantis. A redistribuição também ainda existe, especialmente na condição de subsídios, transferências, subvenções e doações, tanto do Estado como do setor empresarial. Instâncias de reciprocidade não mercantil aparecem, cá e lá, todo o tempo, incluindo presentes, favores e trocas ocasionais. Acontece que todos esses princípios se tornam sujeitos e secundários em relação à lógica geral da troca mercantil e monetária; seu valor é calculado a partir do vínculo que tiver com avaliações de mercado.
3. Sistemas alternativos
O que isso tem a ver com o desastre no Sul e a solidariedade que rapidamente se manifestou? Acredito que a resposta está em ver nessas iniciativas de organizar redes de doações, voluntariado e todo tipo de contribuição algo que vai se tornar cada vez mais comum à medida que a crise climática se desenrola, e por isso mesmo contêm a semente de uma futura recomposição da relação entre as lógicas econômicas que Polanyi apresenta.
É importante ter em mente que esse florescimento da redistribuição e das dádivas se deu num contexto não só de catástrofe, mas de comprometimento da distribuição habitual de bens e serviços pela via do mercado e do mecanismo de preços. Esse é um dos motivos pelos quais a preocupação do governador com o bom funcionamento do comércio local soa tão deslocada, justamente quando está paralisado o sistema que envolve logística, estocagem, venda, pagamento de salários, taxas e impostos, depósito das receitas no banco e por aí vai. Em que condição está esse comércio que ele deseja resguardar? Foram mesmo as doações que o colocaram nessa condição?
Já assistimos a outros momentos em que ruptura dos mecanismos de mercado produziram ondas de solidariedade ou circuitos econômicos alternativos, que emergiram espontaneamente, só porque era preciso. Foi o caso em situações de emergência que nada têm a ver com o clima, como o colapso argentino em 2001, cenários de invasão militar, guerra e pós-guerra, ou a queda da União Soviética. Ganharam vida formas de domesticidade, com comunidades tendo de prover suas próprias necessidades; redistribuição, com comitês organizando racionamentos; e reciprocidade não monetária, ou até monetária, mas alternativamente – como as redes de trueque na Argentina ou o scrip money da Grande Depressão.
É claro que o reverso disso é o surgimento de mercados negros, como também tem acontecido no Sul, com preços escorchantes e proprietários subindo aluguéis. Mas mesmo esse aprofundamento da lógica da troca com vistas ao ganho individual, com toda sua crueldade, é fruto de uma anomalia no próprio movimento de produção, circulação e pagamento.
Em todos estes episódios, a relativa volta à estabilidade que se sucede ao trauma restabeleceu os mecanismos de mercado, levando essas outras formas ao desaparecimento ou à marginalização – o trueque, por exemplo, existiu em pequena escala ao longo de todo este século, e agora reemerge com a ascensão de Milei e seu garrote. Algo semelhante se deu com todo o interminável rosário das calamidades ambientais no Brasil e outros cantos: circuitos de doações e redistribuição surgem e se dissolvem com a mesma agilidade.
4. Capitalismo de desastre
Desta vez, no entanto, a escala é muito maior, as necessidades mais urgentes e a resposta proporcionalmente mais ostensiva. Do dia para a noite, surgiram centros improvisados de recolhimento, transporte e distribuição de doações, com uma notável capacidade de coordenação. Foram criadas plataformas online dedicadas a identificar necessidades específicas e conectá-las aos doadores. Os voluntários afluíram às áreas afetadas, mas, dada a magnitude da destruição, só puderam agir com efetividade quando coordenados com grupos que conhecem melhor a região.
Aliás: ficamos horrorizados com a enxurrada de chorume que tomou conta das redes digitais, com seu repertório infalível de mentiras, compartilhadas pelos culpados de sempre. Mas nem sempre o mais determinante é o que está acontecendo online…
Voltando ao assunto, é claro que todas essas iniciativas também tendem a se desmanchar, quando enfim começarmos a ver uma melhora da situação no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, é importante levar algumas coisas em conta.
Para começar, estamos tão habituados a pensar no capitalismo como infinitamente engenhoso, implacável e inventivo (pense, por exemplo, no Manifesto Comunista, que é de 1848), que podemos esquecer que ele tem as suas próprias fragilidades internas. Embora possa ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, como disse Fredric Jameson, esse poderoso sistema ainda precisa que o mundo esteja no seu lugar e seja relativamente estável. O capitalismo de desastre, nas palavras de Naomi Klein, pode prosperar em torno de deslizamentos, guerras e terremotos, mas se esses eventos se tornarem a regra, a ponto de as pessoas perderem a capacidade de vender sua força de trabalho e comprar seus meios de subsistência, em que solo o mercado vai fincar sua barraca?
Para colocar um pouco melhor: a oposição que Eduardo Leite apresentou entre investir em prevenção e garantir o equilíbrio fiscal é fruto de modelos de pensamento em que se dá por certa a possibilidade de produzir, distribuir e consumir, de modo que choques são a exceção e simplesmente impactam preços e quantidades. De um jeito ou de outro, a moeda vai fluir. Não se leva em conta que a estrutura produtiva e os canais logísticos possam ser nocauteados, nem que as interrupções sejam de fato imprevisíveis, com gargalos surgindo a todo momento. A ideia de que um orçamento saneado é o que dá músculo para fazer investimentos depende de uma situação em que seja possível orçar com alguma segurança. Só que quando a instabilidade do mundo real é grande demais, qualquer orçamento é em boa medida uma peça de ficção.
Um aparte: a esse respeito, vale a pena acompanhar o trabalho de Isabella Weber sobre a inflação em tempos de emergências sobrepostas. Suas sugestões para mitigar a variação incontrolável de preços, algo que se apresentou nos Estados Unidos e na Europa com o bloqueio de cadeias de suprimento e com a guerra na Ucrânia, respectivamente, vão em boa medida na direção do que estou sondando aqui: estoques reguladores, controles de preços, patamares de consumo etc. O mais interessante é que até 2020, um economista teria que ser muito heterodoxo para dar ouvidos. Hoje, até alguns neoclássicos já entenderam que não dá para brincar com certas coisas.
Outro ponto é que a experiência que estão vivendo aqueles que se envolvem diretamente nos atos solidários, recolhendo ou distribuindo roupas, alimentos e remédios, ou conectando pessoas e grupos, representa uma valiosa aquisição de hábitos e saberes, ou seja: práticas. Com a sucessão das calamidades ambientais, e a esta altura só os mais alienados negam que estão se sucedendo e vão se apresentar ainda mais intensas, ao mesmo tempo em que mecanismos tradicionais passam a ratear com mais frequência e, como tratei no último texto, o planejamento em grande escala se revela mais complicado, faz sentido esperar que a prática de lógicas econômicas não estritamente mercantis comece a se solidificar, pelo menos do lado da distribuição, senão da produção. O recurso às soluções alternativas tende a perder, digamos assim, seu caráter alternativo, passando a constituir uma resposta permanente, uma verdadeira tendência.
5. O precedente da pandemia
Talvez essas considerações tenham soado um pouco panglossianas, admito. Principalmente porque o problema do futuro da atividade econômica não aparece só pelo lado da distribuição. Então alguém poderia objetar: está muito bem que a crise suscite novos processos distributivos, mas o que isso muda, se não afeta o sistema produtivo como um todo?
Neste ponto, acho que vale a pena recuar um pouco no tempo e lembrar da pandemia, que foi considerada, nem faz muito tempo, uma espécie de “ponto inaugural” do século do Antropoceno. Também ali houve um enorme surto de solidariedade, em escala global, que envolveu desde pessoas se cotizando para comprar refeições de restaurantes fechados até a pressão no Congresso pelo auxílio emergencial. Aqui e em muitos outros países foram criados instrumentos para sustentar a renda das famílias, mas também o fluxo de caixa de pequenos negócios.
Esses instrumentos vão um pouco além do que já se pensava, nos anos anteriores, em termos de renda básica de inserção, universal e incondicional ou não. O motivo é que já não se tratava mais de garantir o acesso dos mais vulneráveis ao sistema do consumo e, portanto, da produção para o mercado e o lucro. O problema passou a ser o de estabelecer formas de reequilíbrio em situações de ruptura e instabilidade. Uma vez que as estruturas do mercado e do capital começam a se tornar dependentes desses mecanismos, elas já se encaminham para um retorno à condição de “enraizamento”.
Também não devemos esquecer que as iniciativas de política industrial, como a americana, devem muito a esse momento traumático e à percepção de que nem sempre esticar cadeias globais de suprimento em nome da redução de custos é uma ideia razoável. Vem emergindo algo como uma consciência de que as situações antes excepcionais passam a ser recorrentes, levando a uma ainda incipiente tendência à formulação de mecanismos compensatórios. Mais uma vez, o provável resultado, caso essa necessidade se torne permanente – e tudo indica que é o rumo em que stamos –, é o “enraizamento” dos mercados na vida social mais ampla.
Voltemos ao Rio Grande do Sul: além de algumas iniciativas de pequena escala, embora simpáticas, como empresas que dedicaram parte de sua produção a esse circuito distributivo, é sempre bom lembrar que a – vamos chamar assim – “crise do arroz” tem dois lados. O primeiro é esse que se arrasta até agora, com a busca por fornecedores no mercado internacional, encabeçada pelo governo federal, na tentativa de contornar os aumentos de preço que vendedores estão promovendo desde já, obedecendo à “lei da natureza” que se tornou a relação de oferta e demanda. Aliás, estamos diante de uma forma clássica de redistribuição, conduzida pelo Estado.
Mas o que interessa mesmo é o segundo lado, em que o cálculo da produção de alimentos responde à crise. É instrutivo o caso das cozinhas solidárias, envolvendo o MTST, o MAB, a CNBB e outros movimentos, na medida em que dezenas de assentamentos da reforma agrária direcionam parte da sua produção para evitar a penúria no Sul, com o uso dos canais de distribuição do MST. Neste ponto, vemos em potência uma organização produtiva coesa, em grande escala, que seria efetivamente capaz de incorporar diferentes princípios da economia não formalista, nos termos de Polanyi, mas substantivista, isto é, levando em conta a reprodução das condições de vida.
Claro que nada disso tem força a esta altura para competir com o gigantesco aparato técnico-financeiro que domina o planeta, lançando satélites e dejetos, emitindo debêntures e carbono, inovando nos mecanismos de captura da atenção e nas tecnologias urbanas de engarrafamento verde. Mas sabemos que essa máquina começa a engasgar, já que seus canais de reprodução se entopem com sua própria saliva. Sabemos também que os princípios de organização econômica da vida comum, esses mesmos que encontramos em Polanyi, se reconfiguram de acordo com as demandas da história, de tal maneira que o “desenraizamento” do capital não é uma condição definitiva.
É triste constatar que a emergência de arranjos econômicos mais amplos se torna concebível devido à deterioração das condições de vida na Terra tal como a conhecemos, isto é, as condições da nossa vida. O simples fato de termos chegado a este ponto é um testemunho da incapacidade que demonstramos para construir alternativas duradouras e em grande escala à voracidade predatória do capital, sobretudo sua forma radicalizada do último meio século. Temos que ter em mente, com toda a clareza, que a emergência ambiental passa longe de ser uma oportunidade para mudar o que quer que seja. Na verdade, mudar é a única saída para respondermos às calamidades que advêm da degradação ambiental. Tomar essa saída exige um trabalho cuidadoso de construção e articulação, algo que ainda só começamos a vislumbrar em episódios como o do dilúvio gaúcho.